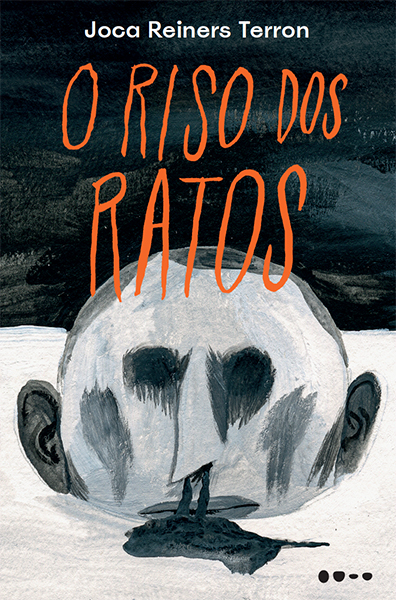1.
Os mortos arrodeam os vivos. Os vivos são o centro dos mortos. Nesse centro estão as dimensões de tempo e espaço. O que circunda o centro é atemporal.
2.
Entre o centro e os arredores há trocas, que normalmente não são claras. Todas as religiões se preocupam em esclarecê-las.
A credibilidade da religião depende da clareza de certas trocas incomuns. O mistério e a confusão de certas religiões são o resultado da tentativa de produzir sistematicamente esse tipo de intercâmbio.
3.
A excepcionalidade das trocas claras se deve à excepcionalidade do que pode atravessar intacta a fronteira entre a atemporalidade e o tempo.
4.
Ver os mortos como as pessoas concretas que eles já foram tende a enfraquecer sua natureza. Devemos tentar considerar os vivos como supomos que os mortos o fazem: coletivamente.
O coletivo não se acumularia apenas no espaço, mas também no tempo. Ele incluiria todos que já estiveram vivos. Assim, também poderíamos estar pensando nos mortos. Os vivos reduzem os mortos àqueles que viveram, enquanto os mortos já incluem os vivos em seu grande coletivo.
5.
Os mortos habitam um momento atemporal de construção constantemente recomposta. A construção é o estado do universo em qualquer momento.
6.
De acordo com sua memória da vida, os mortos conhecem o momento da construção também como um momento de colapso. Tendo vivido, os mortos nunca podem permanecer inertes.
7.
Se os mortos vivem em um momento atemporal, como podem se lembrar? Eles não se lembram de nada além de terem sido lançados no tempo, como tudo o que existiu ou existe.
8.
A diferença entre os mortos e os não nascidos é que os mortos têm essas lembranças. A medida que o número de mortos aumenta, a memória aumenta.
9.
A memória dos mortos que existe na intemporalidade deve ser pensada como uma forma de imaginação relativa a todo o possível. Essa imaginação está perto de (reside em) Deus, mas não sei como.
10.
No mundo dos vivos há um fenômeno equivalente e contrário. Às vezes os vivos experimentam a intemporalidade revelada num sonho, na extensão, em momentos de perigo extremo, no orgasmo e talvez na experiência da própria morte. Durante esses momentos, a imaginação dos vivos abrange todo o campo da experiência e ultrapassa os contornos da vida ou da morte individual. Ela toca a imaginação expectante dos mortos.
11.
Qual é a relação dos mortos com aquilo que aínda não aconteceu, com o futuro? Todo o futuro é a construção na qual se ocupa a sua ‘imaginação’.
12.
Como os vivos convivem com os mortos? Até a desumanização da sociedade pelo capitalismo, todos os vivos esperavam poder vivenciar os mortos. Em última análise, esse era o futuro deles. Por si só, os vivos eram incompletos. Portanto, os vivos e os mortos eram interdependentes. Sempre. Somente uma forma tão peculiar e moderna de egoísmo rompeu essa interdependência. Com resultados desastrosos para os vivos, que agora pensam nos mortos como os eliminados.
[1994]
Tradução de Joca Reiners Terron